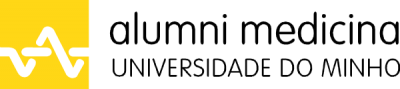Haja Alumni: Marina Gonçalves
17 de Abril, 2022 2022-10-21 13:50Haja Alumni: Marina Gonçalves
A educação para as ferramentas digitais é fundamental porque é nessa direção que o mundo está a evoluir.
Podemos começar por falar sobre a tua especialidade – Medicina Geral e Familiar (MGF) -, que é, muitas vezes, o primeiro contacto da população com os cuidados de saúde. De que forma é que definiras este impacto inicial, como é que nos devemos preparar enquanto médicos ou quais os desafios que se enfrentam?
Efetivamente, MGF é a porta de entrada dos doentes no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, apesar das restantes especialidades terem pacientes filtrados, nós recebemos todos os doentes. É certo que todos os nossos doentes têm personalidades diferentes, tal como os outros doentes que nós enviamos para o hospital têm. Só que MGF tem uma característica específica: o facto de nós conhecermos o doente, a família do doente e todo o historial do doente -tendo nós capacidade para resolver 70% dos seus problemas. O mais difícil enquanto contacto de MGF será eventualmente conseguir restringir a consulta a um ou dois assuntos. Como os utentes sabem que nós temos a capacidade de resolver muita coisa, é muito difícil abordar um problema específico e abordar apenas os problemas deles. E, portanto, isto exige uma flexibilidade nossa. Primeiro para reconhecer os problemas que efetivamente são importantes naquela consulta e o que é vamos abordar naquele momento. Depois conseguir fazer o doente entender isso, que o nosso tempo é finito – as nossas consultas têm 15 minutos de duração, portanto não dá para tudo. E ainda existe um desafio específico na MGF, ainda que esteja felizmente a esbater-se, que é a ideia de que o médico de família não é um especialista. Muitas vezes o doente vem falar connosco querendo ser referenciado para uma especialidade porque tem uma queixa específica, mas ainda não investigou essa queixa, não fez exames, não fez qualquer tratamento. E aqui entra o nosso papel, de fazer o doente entender que também temos especialidade e temos conhecimento para resolver o problema inicial. Portanto, são as duas coisas: refrear o doente quando ele sabe que conseguimos fazer tudo e fazer o doente acreditar em nós quando ele ainda não tem a perceção da nossa capacidade de intervenção.
Mencionaste que cada vez menos aparece esse pedido de indicação para outros especialistas, por exemplo. Como é que combater essa, de certa forma, estigmatização da especialidade?
O progresso que tem havido nos últimos anos com a reforma dos cuidados de saúde primários ou com a atribuição progressiva de médicos de família aos utentes. Sendo certo que ainda há muitos portugueses sem médico de família, se olharmos para Braga, uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, haverá eventualmente 7.000 utentes sem médico de família, o que é um rácio fantástico a nível nacional. Portanto, ter a atribuição de médicos de família, haver esta aposta na formação dos internos, há cada vez uma maior interação entre as especialidades hospitalares e a formação dos internos, a própria qualidade da formação, e também esta oportunidade que o doente tem de estar com o seu médico de família. É normal que, frequentemente, nós desconhecemos aquilo com que nunca contactamos – e mais frequentemente eu posso não ter noção das competências de um médico de família, se eu não tiver um médico de família. Quem não tem médico de família, ainda acha que é o médico da baixa, é o médico que vai transcrever os exames do especialista e, portanto, a oportunidade de contacto é também a oportunidade de compreenderem o papel do médico de família e também, pelo menos alguns utentes assim me dizem, de privilegiar esse contacto – “não vou já ao médico especialista, primeiro vou ver o que diz a minha médica de família”.
É também um trabalho que se vai fazendo, nesse sentido…
Sim, é um trabalho que se vai fazendo e que é muito gratificante. Isto dá trabalho, no meu caso é um trabalho de oito anos, mas acredito que quando me reformar – daqui a muitos anos – será muito mais fácil os doentes perceberem em que é que o médico de família consiste e aquilo que ele consegue fazer.
Então voltamos um pouco atrás – até por estares a falar um pouco da missão da MGF. Porquê esta especialidade? Sempre estiveste mais inclinada para MGF ou surgiu ao longo do curso?
Não, não. Sabes que é engraçado, mas eu entrei em Medicina não querendo ser médica de família.
Era a última coisa que querias? [risos]
Era a última coisa que queria, exatamente. [risos] Precisamente porque eu tinha uma má experiência com o meu médico de família e sentia que não era ouvida, que não havia uma verdadeira pesquisa, e que havia um desinteresse. Por exemplo, se alguém se queixasse de alguma coisa seria mais “então e que exames quer?” – quando esse não é o papel do médico de família, nem de nenhum médico. E eu sentia que isto era algo até desprestigiante para o médico e que era absurdo estar-se numa universidade e numa especialidade para no fim acabar a pedir conselhos ao doente. Não fazia sentido. Esta reforma dos cuidados de saúde primários começou há cerca de 10, 15 anos e eu apanhei o início dessa reforma ainda enquanto aluna. E contactei com uma recém-especialista e percebi que afinal ser médico de família era muito diferente e que havia muitas áreas de intervenção e muito conhecimento adquirido na especialidade que poderia ser colocado em prática. E então comecei a perceber, contactar com as pessoas, felizmente tivemos excelentes tutores a nível de cuidados primários, dos vários anos em que tivemos esse contacto na Universidade, e diria que foi a visão desses médicos, o interesse deles e a forma como conseguiam entrar na vida das pessoas e na doença das pessoas que acabou por me motivar e eu gosto também de comunicar e desta familiaridade – e achei que a MGF seria interessante para mim. E foi a minha primeira opção e sou médica de família de alma e coração.
Foste estudante, também és docente da Escola de Medicina da UMinho. Que comparação fazes entre quando entraste e agora? Mesmo da parte dos estudantes de Medicina, existe menos também esse estigma do MGF? E, também, existe uma melhor preparação nos vários domínios – falaste na comunicação e na capacidade de instruir ou criar literacia?
Eu entrei numa fase muito precoce do curso. O curso tinha aberto há um ano e eu sou, digamos assim, da segunda fornada de médicos. E ainda que houvesse um interesse já especial da Escola em podermos contactar com o utente, aliás nós temos contacto com o utente desde o 1.º ano, não havia uma preparação como temos agora. Confesso que todas as coisas que fui aprendendo sobre comunicação, fui aprendendo já enquanto docente. Algumas pessoas têm maior ou menor propensão para a comunicação, eu já tinha alguma predisponibilidade, mas a verdade é que com formação só depois. Ensinar tem esta parte muito boa de aprendermos enquanto ensinamos. E aprendemos inclusive com os alunos e coisas em que se saem muito bem e “olha, nunca tinha pensado nisto desta forma”. Ensinar também é aprender. E a diferença de currículo que temos entre quando entrei e agora é abismal no campo da comunicação e é muito importante ensinarmos isto aos alunos e sinto que, pelo menos nas aulas sequenciais, chegamos ao 5.º ou 6.º ano e, quando colocamos os alunos a comunicar em situações difíceis, vemos que se saem muito melhor do que alguma vez eu me teria saído. Até te posso contar uma coisa que cheguei a ver uma vez enquanto acompanhante de uma doente. E cheguei na urgência a ver um ex-estudante nosso, a quem tínhamos dado aulas de comunicação, e a forma como eu o vi comunicar com as pessoas que lá estavam, fiquei babadíssima, fiquei cheia de orgulho e pensei: “estamos a fazer um bom trabalho, isto está a correr muito bem”. E é muito bom também ter o feedback dos utentes, quando dizem “fui à doutora x, ela diz que a conhece e que foi sua aluna, gostei muito dela e explicou-me tudo direitinho”. É muito bom ter este feedback e perceber que estamos a fazer as coisas bem, que estamos a fazer as coisas diferentes.
E esse feedback deve ser essencial, até na capacidade de aprender com ele.
Sim, é muito bom saber trabalhar com máquinas, é muito bom saber a parte técnica, mas se não formos capazes de ensinar e explicar ao doente o “porquê” e o “como”, o efeito da nossa ação é muito mais reduzido.
Como é que tens percecionado esta questão da expansão do conhecimento dos doentes sobre a própria saúde. Falamos muito do “Dr. Google” e de como a internet influencia estes contactos, principalmente este primeiro contacto. Como é que isto afeta as consultas? A minha perceção é que já levam pesquisa feita…
Estamos na era da informação. A questão é que muitas pessoas não sabem distinguir entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que eu vou buscar à internet, conhecimento é quando eu efetivamente tenho ferramentas que me permitem distinguir o trigo do joio. Obviamente que qualquer médico, independentemente da especialidade, não pode ignorar que o primeiro contacto do seu doente com a doença é, frequentemente, através da internet. Já leu todo o tipo de coisas, simples e complicadas. É importante entender-nos que a internet é uma ferramenta de auxílio e não propriamente uma concorrência. E aí, quando o doente tem a informação, mas não o conhecimento, passa a ser nossa responsabilidade validar preocupações e esclarecer o que é que daquilo que leu pode ser verdade e o que não é aplicável ao seu caso. Temos que ter calma, muita compreensão e ensinar precisamente a diferença entre informação e conhecimento e dar-lhe algumas ferramentas que o ajudem a destrinçar entre essas duas coisas – e a literacia pode partir daí. Às vezes não é fácil, porque é muito mais fácil escrever numa folha em branco, do que numa folha escrita em que temos de andar a apagar. Isto exige também jogo de cintura da nossa parte, comunicação, não perdermos a paciência e entender que se o doente procurou informação é porque tem vontade em aprender – e se tem vontade em aprender, mais vale ter o conhecimento correto nosso do que desvalorizarmos isso. Não podemos ignorar também que muitas das terapias alternativas e do seu uso é porque são ouvidas, depois de não o serem por médicos na medicina.
Ainda nesta área, um dos focos do Centro de Medicina Digital P5, do qual és diretora, é o trabalho em torno da literacia e das competências digitais, sobretudo na faixa mais velha da população (apesar de não só). Qual é a importância de ter esta capacitação para o digital, principalmente como ferramenta complementar às consultas ou mesmo para esta capacidade de pesquisa?
Os médicos digitais têm uma vantagem muito grande: a menor necessidade de mão-de-obra humana. Conseguir uma consulta com um médico de família é muito bom, mas são três ou quatro meses. As ferramentas digitais, não sendo um médico, podem começar a orientar-nos nalguma área. Aliás, muitas vezes, e estávamos agora a falar do “Dr. Google”, não se procura um diagnóstico, procura-se se temos de nos preocupar com isto. E essa é uma resposta que pretendemos dar com o nosso Avaliador de Sintomas. A educação para as ferramentas digitais é fundamental porque é nessa direção que o mundo está a evoluir – e frequentemente acaba por esquecer as outras ferramentas normais. Por exemplo, o IRS chegou a ser feito em papel e agora ninguém o faz. E, portanto, existem coisas que poderão mudar. Nos centros de saúde ou em alguns hospitais, não há pessoas a atender na secretaria. Tens um balcão, claro, mas se tiveres uma consulta colocas o teu cartão de cidadão e tens um quiosque digital onde podes fazer tudo. Existe ainda a facilidade de acesso. Se tudo estiver bem formulado, com um algoritmo adequado e uma linguagem adequada, a rapidez e a precisão da informação pode ser muito importante para reduzirmos idas desnecessárias a urgências ou centros de saúde ou até para conseguirmos que essas situações urgentes sejam rapidamente avaliadas. Nós sabemos que há imensas pessoas nas urgências que não necessitavam de estar lá e também que existem imensas consultas realizadas em centros de saúde que não eram necessárias, caso houvesse maior literacia em saúde ou tivéssemos uma triagem inicial. Obviamente, que quem tem 15 anos já cresceu com um telemóvel na mão, quem tem 50 anos viveu metade da sua vida adulta sem ferramentas digitais. Eu digo a brincar que cheguei a fazer um interrail quando ainda não havia smartphones. Eu hoje pergunto-me como é que conseguia fazer aquilo. É preciso reconhecer que nos últimos 15 anos demos um salto absurdo e muitas pessoas, com mais idade, têm muito medo que os meios humanos desapareçam, que o papel desapareça e que fiquem sem os seus cuidados de saúde. Sermos capazes de passar essas competências básicas é fundamental para tranquilizá-los, mas também para compreenderem que têm ali uma ferramenta para as ajudar e que o podem fazer a partir de casa – não têm de se meter num hospital, não têm de ir de manhã cedo. Temos todas estas ferramentas ao alcance que podem facilitar a vida a todas as pessoas de todas as idades.
E, no fundo, tornar a saúde mais inclusiva.
Sim, a saúde cada vez mais inclusiva – precisamente.
Efetivamente, MGF é a porta de entrada dos doentes no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, apesar das restantes especialidades terem pacientes filtrados, nós recebemos todos os doentes. É certo que todos os nossos doentes têm personalidades diferentes, tal como os outros doentes que nós enviamos para o hospital têm. Só que MGF tem uma característica específica: o facto de nós conhecermos o doente, a família do doente e todo o historial do doente -tendo nós capacidade para resolver 70% dos seus problemas. O mais difícil enquanto contacto de MGF será eventualmente conseguir restringir a consulta a um ou dois assuntos. Como os utentes sabem que nós temos a capacidade de resolver muita coisa, é muito difícil abordar um problema específico e abordar apenas os problemas deles. E, portanto, isto exige uma flexibilidade nossa. Primeiro para reconhecer os problemas que efetivamente são importantes naquela consulta e o que é vamos abordar naquele momento. Depois conseguir fazer o doente entender isso, que o nosso tempo é finito – as nossas consultas têm 15 minutos de duração, portanto não dá para tudo. E ainda existe um desafio específico na MGF, ainda que esteja felizmente a esbater-se, que é a ideia de que o médico de família não é um especialista. Muitas vezes o doente vem falar connosco querendo ser referenciado para uma especialidade porque tem uma queixa específica, mas ainda não investigou essa queixa, não fez exames, não fez qualquer tratamento. E aqui entra o nosso papel, de fazer o doente entender que também temos especialidade e temos conhecimento para resolver o problema inicial. Portanto, são as duas coisas: refrear o doente quando ele sabe que conseguimos fazer tudo e fazer o doente acreditar em nós quando ele ainda não tem a perceção da nossa capacidade de intervenção.
Mencionaste que cada vez menos aparece esse pedido de indicação para outros especialistas, por exemplo. Como é que combater essa, de certa forma, estigmatização da especialidade?
O progresso que tem havido nos últimos anos com a reforma dos cuidados de saúde primários ou com a atribuição progressiva de médicos de família aos utentes. Sendo certo que ainda há muitos portugueses sem médico de família, se olharmos para Braga, uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, haverá eventualmente 7.000 utentes sem médico de família, o que é um rácio fantástico a nível nacional. Portanto, ter a atribuição de médicos de família, haver esta aposta na formação dos internos, há cada vez uma maior interação entre as especialidades hospitalares e a formação dos internos, a própria qualidade da formação, e também esta oportunidade que o doente tem de estar com o seu médico de família. É normal que, frequentemente, nós desconhecemos aquilo com que nunca contactamos – e mais frequentemente eu posso não ter noção das competências de um médico de família, se eu não tiver um médico de família. Quem não tem médico de família, ainda acha que é o médico da baixa, é o médico que vai transcrever os exames do especialista e, portanto, a oportunidade de contacto é também a oportunidade de compreenderem o papel do médico de família e também, pelo menos alguns utentes assim me dizem, de privilegiar esse contacto – “não vou já ao médico especialista, primeiro vou ver o que diz a minha médica de família”.
É também um trabalho que se vai fazendo, nesse sentido…
Sim, é um trabalho que se vai fazendo e que é muito gratificante. Isto dá trabalho, no meu caso é um trabalho de oito anos, mas acredito que quando me reformar – daqui a muitos anos – será muito mais fácil os doentes perceberem em que é que o médico de família consiste e aquilo que ele consegue fazer.
Então voltamos um pouco atrás – até por estares a falar um pouco da missão da MGF. Porquê esta especialidade? Sempre estiveste mais inclinada para MGF ou surgiu ao longo do curso?
Não, não. Sabes que é engraçado, mas eu entrei em Medicina não querendo ser médica de família.
Era a última coisa que querias? [risos]
Era a última coisa que queria, exatamente. [risos] Precisamente porque eu tinha uma má experiência com o meu médico de família e sentia que não era ouvida, que não havia uma verdadeira pesquisa, e que havia um desinteresse. Por exemplo, se alguém se queixasse de alguma coisa seria mais “então e que exames quer?” – quando esse não é o papel do médico de família, nem de nenhum médico. E eu sentia que isto era algo até desprestigiante para o médico e que era absurdo estar-se numa universidade e numa especialidade para no fim acabar a pedir conselhos ao doente. Não fazia sentido. Esta reforma dos cuidados de saúde primários começou há cerca de 10, 15 anos e eu apanhei o início dessa reforma ainda enquanto aluna. E contactei com uma recém-especialista e percebi que afinal ser médico de família era muito diferente e que havia muitas áreas de intervenção e muito conhecimento adquirido na especialidade que poderia ser colocado em prática. E então comecei a perceber, contactar com as pessoas, felizmente tivemos excelentes tutores a nível de cuidados primários, dos vários anos em que tivemos esse contacto na Universidade, e diria que foi a visão desses médicos, o interesse deles e a forma como conseguiam entrar na vida das pessoas e na doença das pessoas que acabou por me motivar e eu gosto também de comunicar e desta familiaridade – e achei que a MGF seria interessante para mim. E foi a minha primeira opção e sou médica de família de alma e coração.
Foste estudante, também és docente da Escola de Medicina da UMinho. Que comparação fazes entre quando entraste e agora? Mesmo da parte dos estudantes de Medicina, existe menos também esse estigma do MGF? E, também, existe uma melhor preparação nos vários domínios – falaste na comunicação e na capacidade de instruir ou criar literacia?
Eu entrei numa fase muito precoce do curso. O curso tinha aberto há um ano e eu sou, digamos assim, da segunda fornada de médicos. E ainda que houvesse um interesse já especial da Escola em podermos contactar com o utente, aliás nós temos contacto com o utente desde o 1.º ano, não havia uma preparação como temos agora. Confesso que todas as coisas que fui aprendendo sobre comunicação, fui aprendendo já enquanto docente. Algumas pessoas têm maior ou menor propensão para a comunicação, eu já tinha alguma predisponibilidade, mas a verdade é que com formação só depois. Ensinar tem esta parte muito boa de aprendermos enquanto ensinamos. E aprendemos inclusive com os alunos e coisas em que se saem muito bem e “olha, nunca tinha pensado nisto desta forma”. Ensinar também é aprender. E a diferença de currículo que temos entre quando entrei e agora é abismal no campo da comunicação e é muito importante ensinarmos isto aos alunos e sinto que, pelo menos nas aulas sequenciais, chegamos ao 5.º ou 6.º ano e, quando colocamos os alunos a comunicar em situações difíceis, vemos que se saem muito melhor do que alguma vez eu me teria saído. Até te posso contar uma coisa que cheguei a ver uma vez enquanto acompanhante de uma doente. E cheguei na urgência a ver um ex-estudante nosso, a quem tínhamos dado aulas de comunicação, e a forma como eu o vi comunicar com as pessoas que lá estavam, fiquei babadíssima, fiquei cheia de orgulho e pensei: “estamos a fazer um bom trabalho, isto está a correr muito bem”. E é muito bom também ter o feedback dos utentes, quando dizem “fui à doutora x, ela diz que a conhece e que foi sua aluna, gostei muito dela e explicou-me tudo direitinho”. É muito bom ter este feedback e perceber que estamos a fazer as coisas bem, que estamos a fazer as coisas diferentes.
E esse feedback deve ser essencial, até na capacidade de aprender com ele.
Sim, é muito bom saber trabalhar com máquinas, é muito bom saber a parte técnica, mas se não formos capazes de ensinar e explicar ao doente o “porquê” e o “como”, o efeito da nossa ação é muito mais reduzido.
Como é que tens percecionado esta questão da expansão do conhecimento dos doentes sobre a própria saúde. Falamos muito do “Dr. Google” e de como a internet influencia estes contactos, principalmente este primeiro contacto. Como é que isto afeta as consultas? A minha perceção é que já levam pesquisa feita…
Estamos na era da informação. A questão é que muitas pessoas não sabem distinguir entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que eu vou buscar à internet, conhecimento é quando eu efetivamente tenho ferramentas que me permitem distinguir o trigo do joio. Obviamente que qualquer médico, independentemente da especialidade, não pode ignorar que o primeiro contacto do seu doente com a doença é, frequentemente, através da internet. Já leu todo o tipo de coisas, simples e complicadas. É importante entender-nos que a internet é uma ferramenta de auxílio e não propriamente uma concorrência. E aí, quando o doente tem a informação, mas não o conhecimento, passa a ser nossa responsabilidade validar preocupações e esclarecer o que é que daquilo que leu pode ser verdade e o que não é aplicável ao seu caso. Temos que ter calma, muita compreensão e ensinar precisamente a diferença entre informação e conhecimento e dar-lhe algumas ferramentas que o ajudem a destrinçar entre essas duas coisas – e a literacia pode partir daí. Às vezes não é fácil, porque é muito mais fácil escrever numa folha em branco, do que numa folha escrita em que temos de andar a apagar. Isto exige também jogo de cintura da nossa parte, comunicação, não perdermos a paciência e entender que se o doente procurou informação é porque tem vontade em aprender – e se tem vontade em aprender, mais vale ter o conhecimento correto nosso do que desvalorizarmos isso. Não podemos ignorar também que muitas das terapias alternativas e do seu uso é porque são ouvidas, depois de não o serem por médicos na medicina.
Ainda nesta área, um dos focos do Centro de Medicina Digital P5, do qual és diretora, é o trabalho em torno da literacia e das competências digitais, sobretudo na faixa mais velha da população (apesar de não só). Qual é a importância de ter esta capacitação para o digital, principalmente como ferramenta complementar às consultas ou mesmo para esta capacidade de pesquisa?
Os médicos digitais têm uma vantagem muito grande: a menor necessidade de mão-de-obra humana. Conseguir uma consulta com um médico de família é muito bom, mas são três ou quatro meses. As ferramentas digitais, não sendo um médico, podem começar a orientar-nos nalguma área. Aliás, muitas vezes, e estávamos agora a falar do “Dr. Google”, não se procura um diagnóstico, procura-se se temos de nos preocupar com isto. E essa é uma resposta que pretendemos dar com o nosso Avaliador de Sintomas. A educação para as ferramentas digitais é fundamental porque é nessa direção que o mundo está a evoluir – e frequentemente acaba por esquecer as outras ferramentas normais. Por exemplo, o IRS chegou a ser feito em papel e agora ninguém o faz. E, portanto, existem coisas que poderão mudar. Nos centros de saúde ou em alguns hospitais, não há pessoas a atender na secretaria. Tens um balcão, claro, mas se tiveres uma consulta colocas o teu cartão de cidadão e tens um quiosque digital onde podes fazer tudo. Existe ainda a facilidade de acesso. Se tudo estiver bem formulado, com um algoritmo adequado e uma linguagem adequada, a rapidez e a precisão da informação pode ser muito importante para reduzirmos idas desnecessárias a urgências ou centros de saúde ou até para conseguirmos que essas situações urgentes sejam rapidamente avaliadas. Nós sabemos que há imensas pessoas nas urgências que não necessitavam de estar lá e também que existem imensas consultas realizadas em centros de saúde que não eram necessárias, caso houvesse maior literacia em saúde ou tivéssemos uma triagem inicial. Obviamente, que quem tem 15 anos já cresceu com um telemóvel na mão, quem tem 50 anos viveu metade da sua vida adulta sem ferramentas digitais. Eu digo a brincar que cheguei a fazer um interrail quando ainda não havia smartphones. Eu hoje pergunto-me como é que conseguia fazer aquilo. É preciso reconhecer que nos últimos 15 anos demos um salto absurdo e muitas pessoas, com mais idade, têm muito medo que os meios humanos desapareçam, que o papel desapareça e que fiquem sem os seus cuidados de saúde. Sermos capazes de passar essas competências básicas é fundamental para tranquilizá-los, mas também para compreenderem que têm ali uma ferramenta para as ajudar e que o podem fazer a partir de casa – não têm de se meter num hospital, não têm de ir de manhã cedo. Temos todas estas ferramentas ao alcance que podem facilitar a vida a todas as pessoas de todas as idades.
E, no fundo, tornar a saúde mais inclusiva.
Sim, a saúde cada vez mais inclusiva – precisamente.
Marina Gonçalves, alumna da Escola de Medicina da Universidade do Minho
Texto publicado originalmente na edição n.º12 do HajaSaúde
Texto publicado originalmente na edição n.º12 do HajaSaúde
Notícias Relacionados
Convocatória Assembleia Geral Eleitoral
Dez 07, 2022
382 views
Discriminação, Liberdade de Expressão e Empatia
Out 20, 2022
184 views
Saúde e Direitos Humanos
Out 20, 2022
147 views
Cerimónia de Graduação dos Finalistas 2022
Out 14, 2022
228 views
Haja Alumni: Tiago Monteiro Brás
Out 06, 2021
78 views